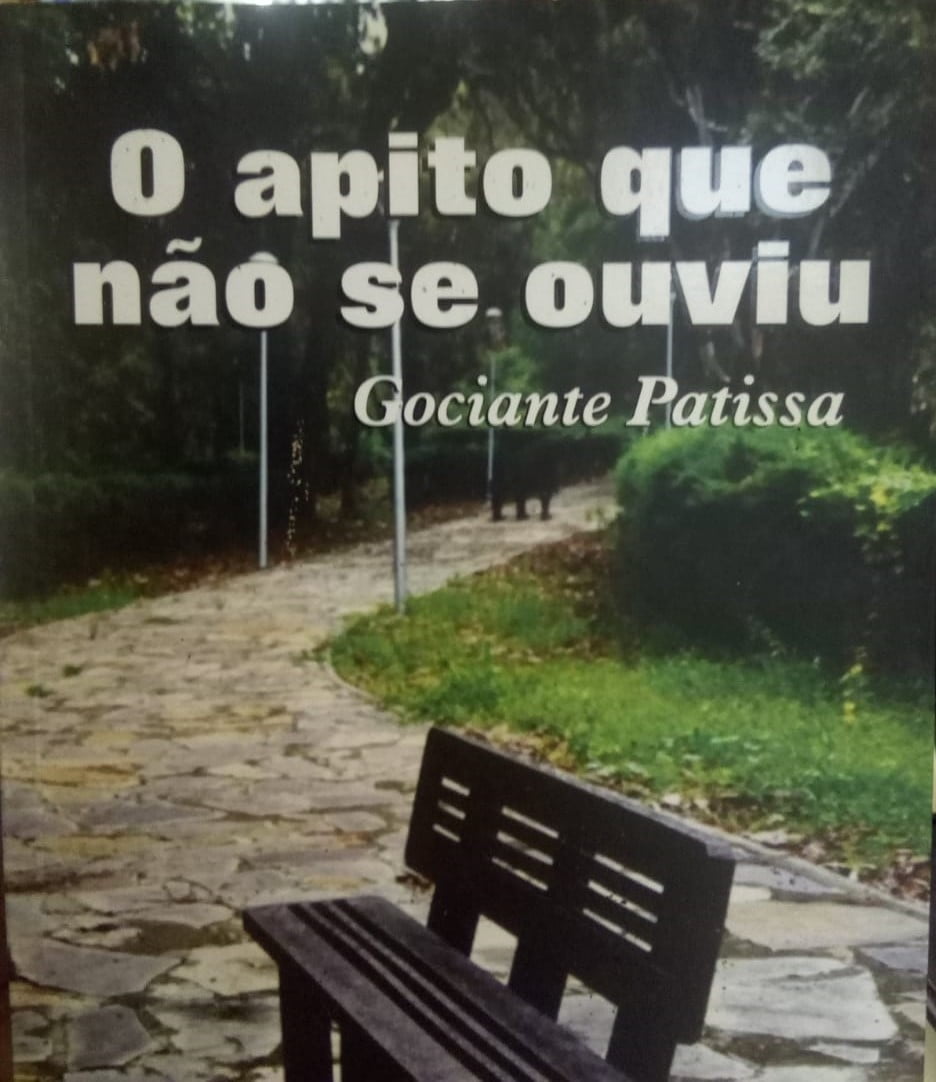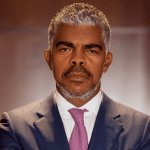Janeiro de 2010. A chegada a Washington DC começou com pequenos percalços no aeroporto de Dulles. Na verdade, os percalços tinham começado bem antes no voo de ligação em Newark, onde o pessoal de segurança se alarmou pelo tamanho da pasta de dentes que trazia de Lisboa estar acima do permitido em bagagem de mão. A presença do protocolo do Departamento de Estado (um senhor simpático de destacável casaco azul) ajudou a desdramatizar a coisa, pois um mês antes tinha sido abortada uma tentativa bombista de Mutallab, um jovem nigeriano, de pele escura e desacompanhado, como eu.
Tive a oportunidade (como poucos a quem calha anualmente) de ser indicado pela embaixada dos EUA a representar Angola no programa de Líderes Juvenis Visitantes Internacionais (conhecido pela sigla IVLP), que durou 28 dias. Para além da troca de experiências com várias organizações, houve visitas a uma série de monumentos e sítios em quatro Estados: Washington DC, Portland-Oregon, Salt Lake-Utah e Miami-Florida.
Em Washignton DC, ressalta-se o arquipélago de melancolias que são os memoriais dos soldados mortos nas guerras. Vindos de todos os cantos e rectas do mundo, América é uma placa giratória de turistas, que não resistem, quando lá chegam, à maresia do lugar. O nosso grupo era formado por vinte elementos, de países diferentes. A visita é guiada por jovens voluntários, que emprestam a sua emoção às narrações. Certo dia, após uma visita ao Museu da Aviação, marcou-me o desabafo de um colega vietnamita, embora seja uma verdade à vista: «Os americanos lamentam e choram a morte de seus soldados, mas lá onde foram, que não é seu território, mataram muito mais do que o dobro daquilo que se queixam.»
Voltando a Dulles, é um enorme aeroporto com dois pisos de saída, um reservado a viaturas particulares e outro para serviços de táxi. Fui logo sair trocando as opções. Perguntando a esse e àquele, lá consegui enfiar-me num Cab, como são designados os táxis personalizados de cor amarelada. Era africano o motorista, somali de vinte e cinco anos, que dizia estar nos EUA pela via do sorteio Green Card, já lá iam dois anos. Planeava buscar a família, à medida que se estabilizasse. Trinta dólares foi a tarifa, mas acabei dando cinquenta, ficando os vinte adicionais por conta da satisfação pela africanidade com que me abordou ao longo da meia hora de estrada.
Na recepção, aguardava por mim um envelope com o mapa da cidade (como se o meu sentido de orientação fosse lá grande coisa) e a chave da porta em forma de cartão multi-caixa, o famoso formato Smart Card. Estavam também os três tradutores (mais guias do que tradutores a bem dizer, uma vez que dominar a língua inglesa é outro pressuposto básico de elegibilidade no Programa de Visitantes Internacionais, iniciativa diplomática que, desde o ano de 1940, dá a conhecer o sonho americano com a abertura de portas a visitantes de vários países do mundo, cobrindo para o efeito as despesas com alojamento e passagens. O meu grupo era de líderes de organizações ligadas à promoção da cidadania e direitos humanos).
Fiquei triste por ter calhado com o quarto oitocentos. Não tenho a mínima atracção por elevadores, ao mesmo tempo que caminhar oito andares vezes sem conta, ao dia, é uma maçada sem precedentes. A minha decisão de aguentar tais «peregrinações» teve de ser abortada. Era casmurrice humanamente insustentável. E foi, pois, nos elevadores que observei a multiplicidade de choques culturais e laboratórios sociológicos.
Ia saudando em cada entrada para o elevador, como faria aqui, mas à medida que fossem entrando outras almas, notei que não esboçavam o mínimo gesto de saudação (justiça seja feita a raras excepções para legitimar a regra). Acomodavam-se e olhavam para o lado. Estranho, pensei. O que vem a seguir? Essa gente faz monumento ao desconhecido? Como posso encontrar alguém num lugar tão restrito, como um elevador, e simplesmente fingir que não estou ali? Sim, porque saúdo para dizer que existo, como pessoa, como ser social. O outro lado faz o mesmo, e celebramos o milagre da vida, por muito breve que seja um sorriso, um aceno, ou um simples olá.
«I don’t think I should say hello to the people that I don’t know» (não acho que seja obrigação saudar pessoas que não conheço), disse-me certa vez, no contexto angolano, alguém de nacionalidade (e cultura) americana. Não lhe prestei grande atenção cá, como é óbvio. Agora que estava lá, as mesmas palavras tinham um sentido bem diferente.
Mas depois repreendi-me a mim mesmo por essa análise tácita (em função da construção social, do meu sistema de valores) sobre a leitura de uma realidade geográfica e culturalmente distante. O que será que representa para a sociedade americana «o desconhecido»? Um ser inerte, uma fonte de medo, uma indiferença em movimento?
In “O APITO QUE NÃO SE OUVIU”
(De 100 páginas, o livro reúne 37 crónicas repartidas em três capítulos como sejam, «viagens», «por dentro da nossa gente» e «na via»).