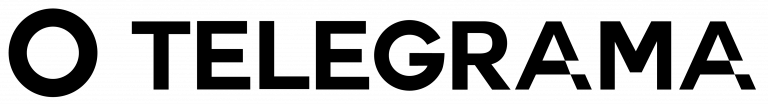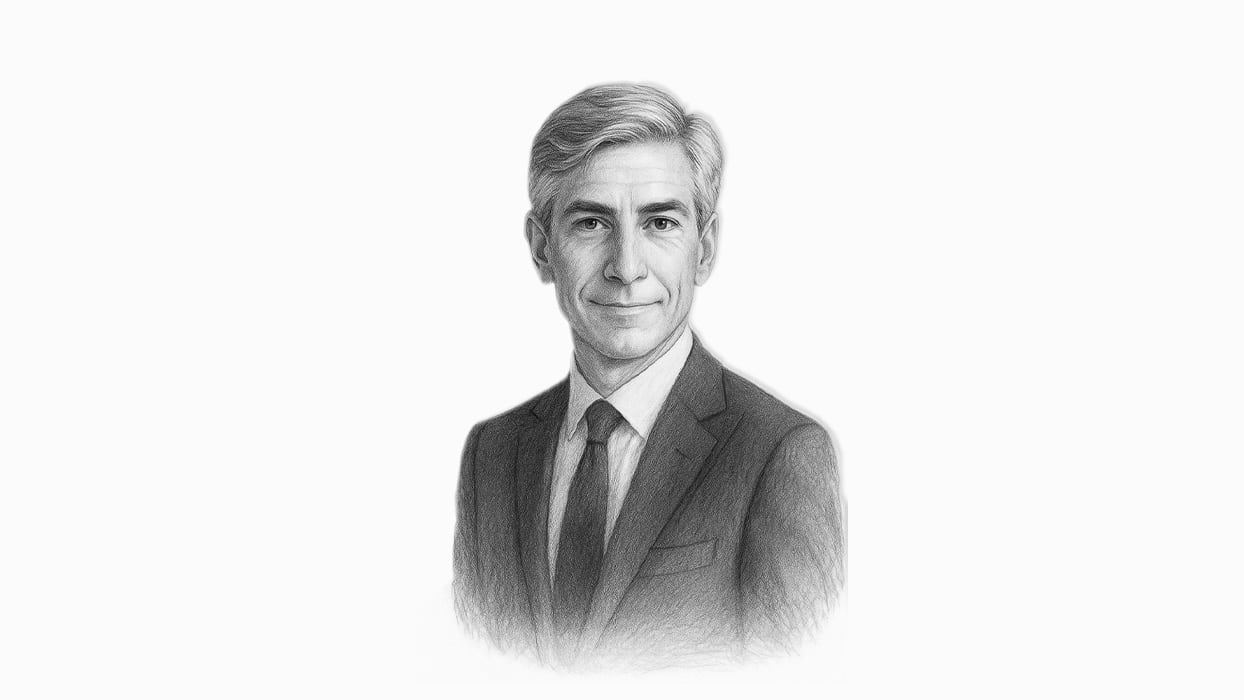Angola atravessa, mais uma vez, um momento de inflexão decisiva. A recente greve dos taxistas, que rapidamente degenerou em tumultos violentos, vandalização de património público e privado, e resultou tragicamente em mais de vinte mortes confirmadas, coloca em evidência uma realidade já sobejamente conhecida pelos economistas que estudam o comportamento das economias em ambientes de incerteza: nenhuma economia cresce de forma sustentada quando o tecido social está dilacerado e os pactos de confiança entre governados e governantes estão sob tensão.
As palavras do Presidente da República, no seu discurso à Nação trouxeram apelos à ordem, à condenação dos actos criminosos, à exaltação do papel das forças da ordem e a uma reafirmação do investimento do Estado nos sectores sociais. Embora o pronunciamento procure transmitir segurança e reafirmar o compromisso institucional com a estabilidade, a leitura económica da crise exige um olhar mais analítico, menos político e mais centrado nas consequências estruturais desta conjuntura.
O medo instalou-se em Luanda particularmente. O abrandamento súbito das actividades comerciais, o encerramento de lojas e a instabilidade social criaram um ambiente de pânico que afectou directamente o funcionamento normal da economia. Dados preliminares (destruição de autocarros, paralização do serviço de táxi e comércio a retalho) apontam para perdas acumuladas nos sectores dos transportes e os serviços de retalho que poderão ultrapassar kz 400 milhões, o equivalente a cerca de USD 3.900 milhões.
Num país que precisa crescer anualmente 4,1% para contrapor a estimativa para 2025 da taxa anual de crescimento populacional de 3,01%, e reduzir a inflação, baixar o desemprego estrutural (ultrapassa os 30% entre os jovens) e absorver os fluxos crescentes de mão-de-obra urbana, qualquer instabilidade social torna-se um travão real ao investimento produtivo. Dados do Banco Nacional de Angola apontam para uma tendência de queda no Investimento Directo Estrangeiro-IDE especialmente no sector não petrolífero, ou seja, em 2022, o IDE total foi estimado em USD 6,6 mil milhões, com investimento petrolífero predominante, enquanto, em 2023, caiu para USD 6,09 mil milhões, uma redução de 13%.
Em 2024, o investimento no sector petrolífero (que representa cerca de 96–98 % do total) cresceu cerca de 11%, atingindo USD 9,7 mil milhões. Já no sector não petrolífero, o IDE, em 2023, era de apenas USD 124 milhões e, em 2024, cresceu para USD 353,5 milhões, ainda muito abaixo da média— tendência que se pode agravar com cada sinal de instabilidade.
O que vivemos nos últimos dias não é apenas uma questão de ordem pública: é um sintoma de um mal-estar económico mais profundo. A greve dos taxistas não surgiu do nada — ela reflecte frustrações acumuladas num país onde o custo de vida, segundo o INE, em Junho de 2025, estava em 19,7 %, e uma inflação acumulada nos primeiros meses do presente ano estimada em cerca de 7,5 %, o que reduz substancialmente o ganho real dos salários. A desvalorização do Kwanza de aproximadamente 5,2% nos últimos 12 meses até Abril de 2025, os preços elevados dos combustíveis (aumento do diesel em 167%), aumentos expressivos de aproximadamente 50% da eletricidade, 30% da água, e 50% do transporte, combinados com a baixa produtividade e o alto custo de financiamento ao sector privado, são peças de um puzzle que tornam a vida quotidiana insustentável para milhares de cidadãos.
Ainda do ponto de vista internacional, o country risk de Angola tende a aumentar, traduzindo-se em maiores exigências de garantias para empréstimos externos, elevação do spread de risco para emissões soberanas e agravamento da percepção do país como destino de capital. Isso tem consequências reais: maior custo da dívida pública, menor margem de manobra orçamental e maior pressão sobre os gastos sociais.
A história recente de países como Moçambique, Nigéria e África do Sul é elucidativa. Em 2021, os motins nas províncias de KwaZulu-Natal e Gauteng, na África do Sul, levaram à destruição de cerca de 50 mil empregos e perdas económicas estimadas em USD 3,4 mil milhões em apenas uma semana (estimativas da South African Property Owners Association -SAPOA). O abrandamento do crescimento económico sul-africano naquele trimestre foi imediato, com recuo de 1,5% do PIB. Moçambique, com os ataques em Cabo Delgado, sofreu reduções drásticas nos fluxos de investimento no gás natural.
Estes episódios mostram que as convulsões sociais — sobretudo quando se tornam recorrentes — impõem custos pesados: reduzem a confiança dos investidores, distorcem as prioridades orçamentais, obrigam à realocação de recursos para segurança interna e, sobretudo, abalam os alicerces da coesão nacional.
O Presidente da República reconheceu, no seu discurso, a existência de “muitos problemas sociais por resolver” e que “o Estado está a fazer o seu melhor”. Esta é uma constatação válida, mas que exige uma abordagem mais estratégica. O crescimento económico não é apenas função de grandes obras públicas, mas da qualidade das instituições, da previsibilidade das políticas e da sensibilidade social na sua formulação. A economia é, antes de mais, uma engrenagem social — e não um exercício meramente de gabinete. Crescer sem escutar os gritos de frustração das ruas é caminhar sobre terreno movediço.
A economia angolana precisa, neste momento, de três coisas fundamentais: (1) estabilidade política e social, (2) reforço da confiança institucional e (3) reformas económicas inclusivas. É imperioso reduzir a dependência do Estado como empregador central e estimular um sector privado robusto, capaz de absorver mão-de-obra e gerar inovação. Para isso, é preciso segurança jurídica, ambiente político estável e políticas fiscais coerentes com a realidade de um país que enfrenta desafios estruturais sérios.
Por outro lado, o discurso oficial precisa sair do plano declarativo para o plano efectivo. Medidas de apoio às empresas vandalizadas são bem-vindas, mas devem ser céleres, transparentes e fiscalizadas — para que não sejam capturadas por interesses secundários. A justiça social, como base de estabilidade económica, exige mais do que boa vontade: exige prestação de contas, respeito pelos direitos dos cidadãos e uma escuta activa dos anseios das camadas mais vulneráveis da sociedade.
Finalmente, devemos reconhecer que a educação cívica não se impõe com repressão, mas constrói-se com o exemplo. A construção de uma Angola mais justa, próspera e inclusiva depende da capacidade dos seus líderes em compreender que as políticas públicas devem dialogar com a realidade — e não apenas com os indicadores macroeconómicos, porque, no final, não existe crescimento económico sustentável sem paz social. E não há paz social sem justiça, inclusão e esperança concreta de que o amanhã pode ser melhor do que o hoje.